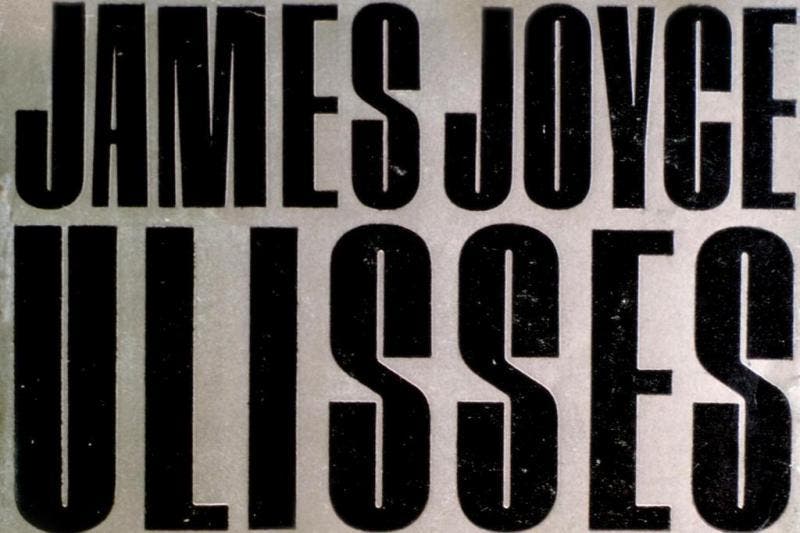Busque no YouTube a suíça Gabrielle Andersen percorrendo os últimos 200 metros da maratona na Olimpíadas de Los Angeles, em 1984. Ela está atordoada, desidratada. Manca, tem cãibra, avança grogue um pouco em diagonal. Ao cruzar a linha de chegada, é socorrida.
Continua depois da publicidade
Foi mais ou menos assim que terminei as 963 páginas de Ulisses, de James Joyce, um romance talvez poucas vezes tão bem definido quanto pelo escritor norte-americano Jonathan Franzen, que o chamou de “uma grande, gelada catedral do Velho Mundo lotada de iconografia”.
Ulisses me fez lembrar, por contraste, de um livro tolo que salvou a minha vida: Hell – Paris 75016, da francesa Lolita Pille. Não no sentido metafórico, claro, porque estamos falando de uma trama barata de surubas, drogas e esnobismo. Hell me salvou no sentido mais importante, o literal.
Morando em São Paulo, em 2005, me tornei usuário fixo de um orelhão. Os celulares tinham custos mais altos, minha casa não tinha telefone. Para manter contato com Florianópolis, eu zerava cartões de 60 unidades. Um dia, adiei a descida ao orelhão porque mais 45 páginas e eu terminava Hell. A trama barata tinha me grudado no meu sofá azul marinho de dois lugares.
Quando finalmente desci, encontrei um ônibus desgovernado. O ônibus tinha quebrado a haste do orelhão e arrastado a cúpula ovoide verde-abacate da Telefônica, por sorte sem encontrar nenhum usuário como alvo. Se eu lesse Ulisses, é claro que estaria estatelado na calçada. Diante da overdose de iconografia, é quase impossível não pausar Joyce a cada 20 páginas, não querer sair da catedral em busca de um pouco de calor. A moral óbvia: entretenimento também merece respeito.
Continua depois da publicidade
Pelo lado positivo, a exploração de novas formas literárias em Ulisses foi obviamente revolucionária. Para T.S. Eliot, Joyce tinha encontrado um “modo de controlar, de ordenar, de dar forma e significado ao imenso panorama de futilidade e anarquia que é a história contemporânea”. Ulisses castiga compensando. Para mais compensações, o guia de apoio The New Bloomsday Book ajuda bastante.
Quem apontou o lado negativo de Ulisses, além de Franzen e muitos outros, foi o crítico espanhol José Maria Valverde, para quem a overdose de referências do romance criou um “puzzle acadêmico, mera alegoria histórico-cultural, em vez de obra de carne e osso”.
Fiquei também me perguntando se Ulisses não deixou um modelo de blefe para escritores fracos no quesito carne e osso: estilhace a trama, exagere o fluxo de consciência, entupa as páginas de charadas cult e a qualidade do que você finalmente afirmar vai contar menos. Muita energia antes usada para escrever grandes romances realistas, como os de Flaubert ou Balzac, passou a ser gasta em experimentos narrativos do modernismo (do qual Ulisses é uma das pedras angulares) e do pós-modernismo. É a “estética da dificuldade”, orgulhosa, como disse Franzen, de “irritar, forçar, desafiar, subverter ou marcar” o leitor.
Claro que os experimentos também significaram avanços indispensáveis, mas chegamos em um ponto esquisito. Por exemplo: no artigo Mr. Difficult, Jonathan Franzen ironiza os amantes dos livros com forma intrincada, desses que terminamos como Gabrielle Andersen em 1984. Em resposta, um adepto do pós-modernismo disse que “não se importa de ser torturado”. É assim fetichista essa gente, que confunde dificuldade de forma com profundidade de conteúdo. Aí chegamos. Felizmente, daí estamos escapando, com romances, como os do próprio Franzen, vendendo infinitamente mais que o dos seus detratores.
Continua depois da publicidade